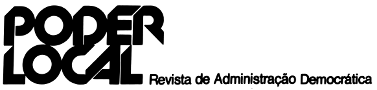[Nota da edição: pela sua dimensão, o presente estudo é apresentado em quatro capítulos]
IV Capítulo
4 – O Urbanismo e a Gestão Urbana hoje
Mantendo-nos dentro dos limites das sociedades divididas em classes, o urbanismo e a gestão urbana dos nossos dias, sem sair do quadro de uma actividade ideologicamente determinada, têm outros valores associados, como resultado dos progressos das Ciências do Homem e da Natureza, da evolução das sociedades e das alterações do sistema de valores dentro da sua estrutura de classes. Fruto das lutas emancipadoras de vastas camadas da população, das cidades em particular e das sociedades em geral, que deram voz a actores até então silenciados, por pressões de classe, por elitismos, por inibições ou por convenções, passando a disputar a sua presença onde antes não tinham lugar e a fazer-se escutar junto dos responsáveis do poder na vida quotidiana e na ocupação das cidades.
Perante este avanço lento, progressivo mas imparável, a democracia foi tomando conta da vida das cidades, persistindo, embora, redutos de ocupação pré destinada por e para elementos da burguesia endinheirada. Este fenómeno, associado ao da posse do solo, criou bolsas de resistência entre classes a que o poder, hoje, tem dificuldade de atender, deixando o terreno livre para a especulação imobiliária, que gere de forma oportunista estas lutas pela disputa de «estatuto» social.
Por outro lado, a própria teoria urbanística tem evoluído ao sabor da experimentação e da circulação das ideias sobre as formas do habitar e do uso das cidades, de correntes do Pensamento, da Economia e da Sociologia, a que não foi estranho o impacto causado por duas guerras que abalaram violentamente os padrões de vida, as perspectivas sobre a existência e, consequentemente, as próprias concepções do mundo.
Do ponto de vista académico, o urbanismo e a gestão urbana de hoje são, pois, actividades com novos horizontes, com novos agentes, novos interlocutores, para uma nova população. São saberes forçosamente multidisciplinares que, para cumprir o caderno de encargos do poder, agora com exigências que jamais teve de atender, se vêm obrigados a apoiar-se em conhecimentos que se cruzam entre si no desenho urbano, como a Sociologia, a Geografia Humana, a Pedologia, a Geotecnia, um sem número de Engenharias, a Arquitectura e o Paisagismo, entre outros.
Além disto, a pressão da vontade das populações, tornada voz activa, abriu caminho até aos corredores do poder, fazendo-se ouvir no desenho urbano ou na sua regulamentação, embora de forma condicionada e nem sempre concretizada.
E isto porque o poder que, se concede o direito de ouvir e de responder, se responde e quando responde, não perde de vista o que lhe convém, ou antes, o que convém e como convém à classe dominante que o elege.
Porque o factor determinante para o desempenho do poder continua a ser a posse do solo. Porque o solo é um poder. Porque o poder «sabe» como se explora o solo de forma a tirar dele os máximos proveitos. E mesmo que em algumas sociedades do Mundo Ocidental o solo seja propriedade do Estado, ou noutras de culturas bem mais diferentes e distantes e em que a propriedade fundiária nem sequer está socialmente determinada, o decisor político continua a ser o poder.
Ora esta perspectiva é inquestionável, impondo condições de uso no desenho urbano. Com efeito, se o solo é colectivo, isto é, se é propriedade da comunidade, configurando esta formulação numa sociedade sem classes, o campo de manobra do urbanismo quase não tem fronteiras. Responde apenas por factores físicos e económicos, ou seja, sobre se é possível desenhar a cidade num dado momento das condições da sociedade, sobre se é possível a cidade ser implantada onde lhe foi ditado, se é possível ter o número de habitantes pré determinado, se lhe é possível respeitar os padrões de conforto e de qualidade de ambiente desejáveis, se lhe é possível ter o equipamento compatível (hospitais, escolas, centros de cultura e lazer, etc.) e, por fim, se é possível construí-la dentro do orçamento que lhe foi atribuído.
Se, pelo contrário, o solo é propriedade individual, mesmo que parte dele seja propriedade comum, numa sociedade de classes o desenho urbano é inapelavelmente e definitivamente condicionado pelas regras impostas pelo poder, pela classe dominante, ou é esquartejado ao sabor da espontaneidade ou do oportunismo de empreendedores sem qualquer preparação cultural que actuam à margem daquelas regras, saindo, portanto, fora do quadro que temos vindo a tratar, ou seja, do Urbanismo e da Gestão Urbana.
E este figurino tem, como vimos, séculos de existência, Anuncia a cidade actual, ou seja, uma cidade que, embora de maneira mais flexível e mais plural do que ontem, terá um ou mais centros para o poder, zonas para serviços e equipamentos e zonas de habitação. No intento dos planeadores, estas últimas não são dedicadas, mas é a prática que se irá encarregar de estabelecer onde começam e acabam os territórios da alta e da média burguesias, uma e outra agora já confundidas no tecido urbano e no dia-a-dia da vida social. Como é também a prática que irá revelar o verdadeiro sentido que se atribui a outra zona habitacional, a zona designada para «Habitação Social», isto é, para os «pobres», isto é, para a classe trabalhadora menos favorecida. E que ficará, obviamente, na periferia, zona a que hoje se dá o nome de «arredores» ou «subúrbios», recuperada a designação medieval.
Tratando-se de cidades já existentes, quando essa periferia mais se adensa e ganha vida própria, com residentes e trabalhadores fixos, incorporada como está no território que envolve essas cidades e que nos nossos dias corresponde às designadas «Áreas Metropolitanas», chama-se «Cidade Satélite». E esta nova figura urbanística multiplica-se, por vezes, até se constituir numa verdadeira «constelação» que pontua como uma cinta todo o contorno das periferias.
Tal configuração é um fenómeno irreversível. Que trás consigo a contradição emergente e facilmente previsível, da figura da «desertificação» dos centros urbanos que, nos «velhos cascos», frequentemente ficam sujeitos à degradação e à ruína dos seus edifícios, à insegurança dos seus residuais residentes, ao definhamento do seu comércio. Face a esta nova situação, os representantes do poder apelam ao retorno, engendrando estratégias de aliciamento com o fim de cativar os exilados, apelos esses que ficam sem resposta pois a população expulsa não pode pagar os valores pedidos pelos donos do solo, seja para compras seja para arrendamentos.
Ora tudo o que temos vindo a tratar refere-se a cidades de hoje que se pretendem requalificar à luz de modelos mais actualizados de habitar, de fixar trabalho e de se movimentar dentro dos seus limites ou no vai vem de e para as periferias.
Quanto a grandes cidades desenhadas de raiz, e cumprindo apenas um propósito académico, os únicos exemplos com significado, embora obedecendo a modelos específicos que nos nossos dias já estão postos de lado, são o de Brasília, no Brasil, e o de Chandigarh, na India. No primeiro, desenhada por Lúcio Costa em 1956 e com a arquitectura dirigida por Óscar Niemeyer, estamos perante um plano saído de um compromisso entre poder e democracia burguesa. Pensada para ser a nova capital do país, a cidade está claramente sectorizada, dividida entre a zona Institucional e as zonas residenciais e de serviços, com o equipamento distribuído racionalmente de forma a garantir o abastecimento, o conforto e a qualidade de vida da população. A imagem mais visível do referido compromisso é o seu centro institucional, a Praça dos Três Poderes.
O segundo, desenhado por Corbusier e Pierre Jeanneret em 1947, trata-se de um projecto modelo encomendado para ser a capital do Punjab e do Haryana, com uma malha de quadrados e de zonas verdes, sem ter, todavia, um espaço visivelmente atribuído especialmente ao poder. É uma cidade elitista, destinada a uma classe média alta da burguesia, povoada de universidades e de museus.
Ora, num e noutro caso, com estruturas urbanas, objectivos sociopolíticos e populações completamente diferentes, se configura, sem nada escamotear, o carácter de classe da concepção de cidade, ali se consagra o princípio de um urbanismo de classe.
5- Conclusão
Tal como na Paris de Haussmann hoje, o valor majorado do solo no centro e nas zonas imediatamente próximas, impõe, mais cedo ou mais tarde, incontinenti, ou o despejo ou a saída dos residentes que não podem acompanhar as subidas das rendas pedidas pelos donos desse solo, atirando-os, assim e sem alternativas, para a periferia.
Mas o povoamento desta periferia está longe de ser, apenas, um gesto de arremesso do poder que vise atingir, directa ou indirectamente, aquelas populações que não têm o seu padrão de vida e com quem não quer conviver ou partilhar território. Ele visa, essencialmente, recuperar o uso do seu solo para dele retirar o máximo proveito sem olhar a meios, à luz da sua moral de maximização de lucros. E estes visados são, em rigor, privados de aceder ao interior das cidades por falta dos meios para nelas viverem, isto é, por falta de salários dignos que lhes permitam ter uma vida digna. Eis porque se refugiam nas periferias como única alternativa de encontrar a habitação que podem pagar, o projecto de existência a que podem aceder, o futuro que poderão sonhar.
São vastas camadas de uma pequena burguesia empregada nos serviços ou no comércio, de trabalhadores oficinais ou pequenos empresários que, por força da necessidade de encontrar um quadro de quotidiano com o qual se possam identificar, acabam por criar uma cultura própria, um comportamento de «periféricos», acantonados como estão num cenário de «dormitórios» que abandonam todas as manhãs para a eles regressarem ao fim de cada dia de trabalho, numa vida pendular rotinizada, com incomportáveis custos de transportes e tempos de trajectos, custos que lhes reduzem o salário e tempos que os privam do descanso e da convivência com a família.
E tal como no século XIX, é para aqui que convergem, vindos dos campos ou de outros povoados distantes, doutros países e, por vezes, de culturas e línguas bem diferentes, sempre atraídos pelos mesmos sonhos de sobrevivência, vagas sucessivas de excluídos, emigrantes dos seus próprios países ou de outros que os rejeitaram, que nada lhes ofereceram senão uma porta de saída clandestina.
Eis, tal como no século XIX, o modo perverso de se forjar um exército de desclassificados, alimentando um potencial explosivo de marginais que, cada vez com mais frequência e intensidade, confronta a sociedade que, de facto, não os acolhe, que os expulsa, gerando ondas de choque de violência e de insegurança, que o dia-a-dia já não pode receber com tolerância. Este é um fenómeno que não tem pátria, que está à vista nos arredores de Paris, de Caracas, do Rio de Janeiro, de Lisboa, de Nova Yorque e em muitas mais cidades do mundo.
Eis a expressão das contradições que estão presentes na estrutura das cidades de hoje como nas de outros tempos, lá onde o poder se afirma e sempre se afirmou enquanto o motor que determina o desenho urbano à imagem do modelo das sociedades divididas em classes de posses e de interesses inconciliáveis.
Carlos Roxo