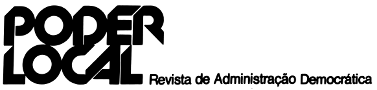[Nota da edição: pela sua dimensão, o presente estudo é apresentado em quatro capítulos]
III Capítulo
3.4 – O Iluminismo
Dando um salto no tempo e passando por fases em que as atitudes perante o planeamento urbano não sofreram grandes alterações, chegamos à era das Luzes, altura em que se dão passos decisivos para a sua fundação enquanto Ciência do Espaço.
Enquanto disciplina académica nascente, o Urbanismo teve, pois, essencialmente, duas fases fundadoras. A primeira, iniciada a partir de meados do século XVIII, no período áureo do Iluminismo, foi, naturalmente, muito influenciado pelo racionalismo cartesiano e em que a regra era a cidade geométrica, onde tudo estava previsto, onde todas as funções urbanas tinham um lugar previamente determinado. Tal atitude constituiu um revisitar dos modelos gregos e romanos, à imagem do que aconteceu na generalidade das actividades das artes em particular e da cultura em geral. O exemplo paradigmático deste modelo urbanístico foi o da cidade de Lisboa, cujo centro, destruído pelo terramoto de 1755, foi redesenhado e reconstruído a mando do marquês de Pombal, por Eugénio dos Santos. Mas não foi o único, pois outros exemplos houve ainda em Portugal, como os planos mandados executar por Pombal para Vila Real de Santo António e Porto Covo, e numerosos outros desenhados também a seu mando para cidades e aldeamentos no Brasil.
A segunda fase teve origem entre os finais do século XVIII e meados do século XIX, essencialmente fruto da Revolução Industrial. Neste caso não se tratava já de planear de raiz qualquer cidade, mas sim regrar as cidades existentes que sofriam, quase à beira do colapso, a forte pressão demográfica da chegada, em vagas maciças, de novas populações vindas dos campos, sem qualquer cultura urbana, maioritariamente analfabetas, pauperizadas e sem horizontes, e que procuravam na cidade o trabalho e o alojamento dignos que não tinham nas suas terras de origem.
3.5 – O Século XIX
Esta migração de muitos milhares de camponeses, tecelões e pequenos artesãos que acorriam às cidades trazendo consigo gerações de miséria e exploração, foi o primeiro sinal dos conflitos e das contradições que nelas causam a transferência de «sítio» e a falta de condições de acolhimento, em que a procura da cidade era, afinal, a procura da sobrevivência. E tal fenómeno radica nas condições materiais da sociedade neste período, no processo de desenvolvimento técnico, científico e industrial aberto pelas descobertas de máquinas de produção e de confecção, instaladas em fábricas e oficinas que começaram a implantar-se na periferia de certas cidades, nomeadamente nas grandes capitais. Por outro lado, a concentração destas unidades fabris, ora usando os novos teares mecânicos, ora operando com engenhos movidos a vapor, necessitavam da única fonte de energia fóssil então disponível – o carvão.
Assim, se houve um grande crescimento demográfico em capitais como Londres e Paris, o mesmo se deu de forma mais significativa em cidades periféricas situadas perto de minas ou de portos. Foi o caso de Manchester, Glasgow, Liverpool ou Bordeaux, entre outras. A título de exemplo, e para se dar uma ideia desse crescimento, Londres, que tinha uma população de um milhão de habitantes em finais do século XVIII, em 1850 tinha já 3 milhões e 366 mil. Manchester, em 1760, contava com 12 mil habitantes e, em 1850, passou a ter 400 mil.
Ora esta «invasão» urbana veio encontrar estas cidades sem quaisquer capacidades de acolhimento, seja do ponto de vista da habitação, seja de infra-estruturas, como redes de distribuição de água, redes de esgotos, redes de iluminação ou sistemas de limpeza das ruas. Os novos habitantes instalavam-se em colónias improvisadas, em casas ou barracas miseráveis e sobrelotadas, numa promiscuidade a que se somava a total falta de higiene e de salubridade. Deste modo se compreende porque em 1831,1838 e 1846 eclodiram as grandes epidemias de cólera em França e Inglaterra.
Friedrich Engels, em 1845, escreve no seu livro «A situação da classe trabalhadora em Inglaterra»: «(em Manchester), filas de casas ou grupos de ruas surgem aqui e ali, como pequenas aldeias, sobre o novo solo de argila, onde nem sequer cresce a erva. As ruas não estão pavimentadas nem têm esgotos, ainda que alberguem numerosas colónias de porcos encerrados em pequenos currais ou pátios, ou livres pelos arredores. (no núcleo antigo) a confusão chegou ao máximo, porque onde quer que o programa de construção anterior deixou um pouco de espaço, de acrescentarem outras construções, até não sobrar entre as casas uma polegada de terreno onde se possa construir. (nos bairros novos, a situação ainda é pior) porque, se antes se tratava de casas isoladas, aqui cada pátio e cada pequeno curral se acrescenta segundo o gosto de cada um, sem respeitar a situação dos demais. Às vezes uma pequena rua começa numa direcção e, em seguida toma outra. Por cada extremo se chega a uma via sem saída ou se dá uma volta em redor de uma construção isolada, que leva o visitante ao mesmo ponto de partida.»
Numa obra datada de 1848, Louis Auguste Blanqui descreve: «Muitas famílias de Rouen dormem em promiscuidade em camas de palha, como os animais num estábulo, a sua vasilha consiste num vaso de madeira ou de louça estilhaçada que serve para todos os usos. Os filhos menores dormem num saco de cinzas. Os outros, pais e filhos, irmãos e irmãs, dormem todos juntos numa indescritível cama de palha. Em Lille, as ruas dos bairros operários conduzem a pequenos currais que servem ao mesmo tempo de esgoto e de depósito de lixo e esterco de cavalariça. As janelas das casas e as portas dos quartos abrem-se sobre estas passagens infectas, ao fim das quais há uma grade colocada horizontalmente sobre os drenos que servem de latrinas públicas, de dia e de noite. As casas da comunidade estão distribuídas em torno destes centros de pestilência, dos quais a miséria local se compraz em sacar uma pequena renda.»
A população destes bairros não trouxe dos seus locais de origem melhores condições de vida, de habitação e de higiene. Queria fugir da exploração infra-humana que os senhores da terra lhes impunham. O que procurava agora era um trabalho de outro tipo e, sobretudo, esperança. O que veio encontrar foi um novo pesadelo, em que para ganhar pouco mais do que conseguia obter antes, era preciso que toda a família, homens, mulheres e crianças trabalhassem, até ao limite das suas forças, vigiados e reprimidos pelos patrões ou seus capatazes, entre 18 e 20 horas diárias.
Ora este quadro social da nova classe operária urbana, só foi possível à custa da exploração dos donos das fábricas e entrepostos comerciais, uma burguesia industrial e comerciante assim promovida, aspirando a ter um lugar próximo do poder político, e em torno da qual gravitava um novo figurino social, uma classe média de pequenos industriais e comerciantes e de prestadores de serviços na administração publica e privada. Mas, como um correlato inevitável, sem o suspeitar, estavam a lançar as sementes da revolta que iria desembocar em França em 1789, e em toda a agitação que atravessou a Europa durante o século XIX: 1831 (Lyon), 1834 (Paris, Lyon), 1839 (Paris), 1848 (França, Inglaterra, Alemanha e Áustria) e, por fim, em 1871, na «Comuna de Paris».
As cidades que estiveram no centro deste fenómeno de crescimento anárquico, sobreviviam de costas voltadas para as periferias e para os grandes constrangimentos que já se faziam sentir no quotidiano dos «cascos velhos», de ruas estreitas e tortuosas, desadequadas em relação aos novos problemas de trânsito provocados pelo súbito adensamento da circulação de transportes públicos e privados.
Esta ausência de intervenção no redesenhar as cidades, fosse em função das alterações dos seus usos, fosse do seu crescimento populacional, traduzia a postura dominante do poder burguês virado sobre si próprio e mais preocupado em tratar das condições de habitabilidade das classes que representava, cumprindo a agenda da sua clientela, daqueles que lhe permitiam exercer o seu projecto político, oferecendo-lhes a satisfação das suas ambições de representação e de visibilidade, o conforto e a dignidade que sonegava aos habitantes das miseráveis periferias.
Centro e periferia em condições antagónicas, eis a cidade que o poder burguês. consagrou a partir do século XIX e não mais alterou até aos nossos dias. E esta configuração, isto é, a da cidade dos ricos e a cidade dos pobres coexistentes no mesmo perímetro urbano, cidade dividida em coroas de caracterização económica, social e política, onde o centro é pensado e ocupado pelo poder para o poder, a que se segue a mancha da habitação das classes altas e médias até aos seus limites extremos onde se alojam os operários e as franjas de classe que não couberam nas coroas anteriores. Cidade em que o crescimento urbano é descontínuo, aumentando à medida que se afasta do centro, deixando para trás um tecido urbano mais ou menos estabilizado, reconvertendo-se dentro de si próprio e em que a regra é, sempre, desalojar quando o solo não chega para os projectos do poder ou da sua clientela. Assim, esta zona excêntrica cresce, pois, por força do arremesso centrífugo dos habitantes do centro ou do meio da cidade para fora dos seus limites de boas residências, como cresce pela chegada de novos contingentes de populações vindas do campo ou de outros locais onde o trabalho escasseia ou não oferece condições de atractividade ou mesmo não serve como meio de sobrevivência.
A pressão do crescimento neste período que, como vimos, começou ainda nos finais do século XVIII, foi desmesurado e de grande conflituosidade social, pôs em causa de tal forma os alicerces da sociedade burguesa, que esta se viu obrigada a agir, a procurar soluções de contenção, de regulamentação e de execução de projectos específicos, nomeadamente de infra-estruturas sanitárias. Tal é o caso do «Public Health Act» que institui na Inglaterra de 1848, os «Boards of Health» referentes ao saneamento e ao cuidado e à limpeza das ruas, vindo mais tarde, em 1865, a estender-se já á regulamentação das edificações.
Mas as questões essenciais da habitação continuavam por resolver, mantendo-se campo aberto para os especuladores que actuavam de mãos livres, fora do controle do Estado, desenhando a cidade ao sabor dos seus interesses, do majorar o valor do solo e do maximizar os lucros de vendas e alugueres, construindo casas sem os materiais adequados, sem alicerces, de paredes assentes directamente sobre o solo não compactado, sem condições de habitabilidade, de segurança, de salubridade e de ventilação. Quanto à situação das ruas, recorde-se as citações de Engels e de Blanqui que atrás transcrevemos.
Ora, os recursos económicos desta população e as condições infra-humanas em que vivia, chamaram a atenção de uma «má consciência» de certos membros das sociedades onde isto se verificava, nomeadamente em França e em Inglaterra. Eram «humanistas», filantropos ou «utópicos», que abriram a discussão pública sobre o novo «flagelo humanitário» que assaltava o bom viver da sociedade, motivando a reflexão sobre as suas causas e os seus efeitos, tendo mesmo levado os governos a nomear comissões de técnicos para estudar soluções que só muito tarde se foram começando a executar. Mas também deram origem a movimentos de carácter caritativo ou de cunho moralista, virando-se mais para os «maus» costumes e as «más» práticas sociais e tendo dado lugar a planos de intervenção subjectivistas e idealizados, que nunca passaram do papel, mas que, também, nunca afloraram a raiz, bem visível, do problema – a brutal e desumana exploração do homem pelo homem, o império do lucro, a ambição desmedida do «ter» em desfavor do «ser», tudo isto apoiado num Estado que construía as leis ditadas pela burguesia capitalista e a aristocracia agrária, ignorando o que não lhe convinha ou nada fazendo que não fosse em seu proveito.
Estes movimentos visionários foram muito influenciados pelas ideias dos «socialistas utópicos» (para usar a expressão de Marx) que, se afrontavam a burguesia capitalista reclamando-se de um projecto de vida socialista, não deixavam, todavia, de propor uma reconciliação de classes em nome de uma desejável irmandade de bom comportamento social e moral, admitindo a possibilidade de uma convivência pacífica entre os patrões e os seus empregados, entre os donos das fábricas e das terras e aqueles que nelas trabalhavam mediante um salário, isto é, uma magra parcela do ganho do seu patrão, ganho esse só possível porque o empregado para ele trabalhava.
Desses filantropos, visionários ou utópicos, destaquemos apenas alguns:
- Robert Owen (Inglaterra, 1770-1858), que em 1816 publica «Instituição para a Formação do Carácter», suporte teórico para a criação de uma fábrica de têxteis modelo em New Lamark e onde a prática de vida seria, como que um «comunismo paternalista», com horários moderados, bons salários, habitações salubres para os operários, escola primária e jardim de infância. O mesmo princípio foi por ele aplicado em 1817 nas aldeias comunitárias, onde associava indústria e agricultura numa pequena comunidade para 300 a 1200 pessoas, que habitavam e trabalhavam colectivamente no campo e na fábrica, com escolas, cozinha e refeitório colectivos, dormitórios, igreja, hotel e lojas, tudo o essencial para se bastarem a si mesmos. É de notar ainda que Owen foi um dos precursores da legislação sobre trabalho e dos movimentos cooperativo e sindical em Inglaterra, de tal modo que, entre 1832 e 1834 é um dos fundadores das «Trade Unions».
- Charles Fourier (França, 1772-1837), criou as comunidades a que chamou «Falanstérios», para 1620 pessoas vivendo um projecto colectivista onde coexistiam pobres e ricos em associação livre e com um fim comum tendo em vista existência ideal.
- James Buckingham (Inglaterra, 1786-1855), elaborou o projecto da cidade modelo de Vitória, onde os habitantes deveriam levar uma vida de «virtude e de temperança», sendo todos accionistas, homens, mulheres e crianças trabalhando ao lado uns dos outros consoante as suas forças e capacidades.
- Robert Pemberton (Inglaterra, 1784-1858), que em 1854 publicou «A Colónia Feliz», a situar na Nova Zelândia, onde o terreno era barato, baseada na propriedade comum e na dignidade do trabalho voluntário, devendo ser evitados excessos na especialização e na divisão de tarefas.
- Ebenezer Howard (Inglaterra, 1850-1928) que observando as degradantes condições de vida das cidades, publica em 1898 um livro «Garden-cities of To-morrow» onde propõe século XIX e, mais tarde, na reconstrução de cidades alemãs destruídas pela Segunda Guerra.
Como vemos, entre filantropos e utópicos, as suas visões do mundo e as suas propostas não saem do universo burguês e da divisão da sociedade em classes com interesses e objectivos antagónicos. Procurando elevar-se acima do poder, na reflexão ou na prática, aceitavam-no tacitamente, sem questionar o seu papel de expressão de uma ideologia dominante, de uma tutela de classe que dita as regras e molda a sociedade em seu favor, sem outra opção social, económica, cultural e política que não seja a sua.
3.6 – Haussmann e o reordenamento de Paris
Um exemplo notável e paradigmático da prática da ideologia da «nova cidade» em coroas segundo as posses dos seus habitantes, do centro para a periferia, foi o da renovação de Paris, levada a cabo por Georges Haussmann, entre 1862 e 1875, durante o Segundo Império, ou seja, com Napoleão III. É o próprio imperador que lhe comete a tarefa de modernizar e embelezar a cidade para a tornar numa capital imperial sem paralelo na Europa. Assim, durante 13 anos, o labirinto antigo e pobre de ruas do centro de Paris foi demolido e deu lugar à cidade tal como a conhecemos hoje, regrada e hierarquizada num traçado em malha geométrica, não à imagem dum plano Iluminista, mas obedecendo essencialmente ao propósito de criar um gigantesco cenário, com regras de carácter estético, funcional e, simultaneamente, militar.
Com efeito, não só se procurava dar nobreza à cidade, através do desenho de ruas, avenidas e grandes e monumentais praças, como com a construção de imponentes edifícios - a Opera, o Hôtel-Dieu, a église de la Trinitée, os teatros da Praça Châtelet, a Gare de Lyon e a Gare du Nord - ao mesmo tempo que se padronizava o desenho dos alojamentos para a alta e média burguesias endinheiradas e em promoção social.
Por outro lado, houve o propósito deliberado e explícito de promover a protecção da cidade contra motins e o levantamento de barricadas tal como sucedeu desde 1789 e durante as sucessivas revoltas populares até 1848, altura em que o povo se ergueu e enfrentou as tropas de assalto de Luís Filipe. Haussmann, não só demoliu (através de decreto de expropriação por utilidade pública) as casas onde residia e trabalhava em pequenas oficinas uma parte da população insurrecta e de onde irradiou a agitação do centro da cidade, expulsando-os liminarmente, como traçou as novas ruas e avenidas numa malha regular em xadrez, com larguras que permitiam o uso da cavalaria e da artilharia.
O plano Haussmann é, assim, um exemplo de planeamento e de gestão autoritários do território, em que uma área urbana apreciável é sujeita a padrões de urbanismo e de arquitectura que ainda perduram como uma imagem de referência, aqui, assim como da Lisboa de Pombal. Mas é, também, um exemplo do poder do Poder, da imposição das ideias da classe dominante, que redesenha a cidade à medida das suas ambições de protagonismo, seguindo as medidas postas em prática desde a Revolução Industrial quando, como vimos, as cidades foram «assaltadas» por vagas de famintos. E que é tanto mais importante quando lembramos Hitler ao encomendar a Albert Spear a remodelação de Berlim de forma a transformá-la numa capital imperial, do Império Nazi, como da Europa Nazi, assumindo-se como o porta voz da classe dominante germânica que, de facto, lhe financiava os projectos de domínio.
Carlos Roxo