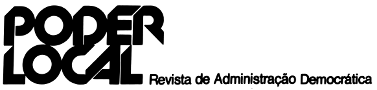[Nota da edição: pela sua dimensão, o presente estudo é apresentado em quatro capítulos]
II Capítulo
3-O Urbanismo e a Gestão Urbana na História
A necessidade de procurar o melhor local para a fixação de uma comunidade e a procura de disciplinar o espaço que medeia todo o tipo de construções, estabelecendo os nexos funcionais entre elas, é um fenómeno que remonta a milénios antes de Cristo.
O processo de fixação terá passado por diferentes fases:
- A fase do reconhecimento empírico das condições de implantação dos povoamentos próximo de rios e de lagos, o que lhe matava a sede e irrigava o solo, de terras próprias para cultivo, o que lhe matava a fome, e com uma disposição do relevo por forma a engendrar defesas contra foças naturais ou intrusões vindas do exterior;
- E a fase nascida da experiência acumulada, que lhe vai permitir aprofundar o conhecimento do meio físico antes encontrado e onde se vão descobrindo novos usos dos cursos de água, tais como o servir de sistema de esgoto dos povoados, de via de comunicação e de transporte de pessoas e bens em períodos de paz ou de guerra, para trocas comerciais ou para intercâmbio entre comunidades e, finalmente, de fronteira natural do território, tanto como delimitação, como de barreira de defesa em complemento das outras já edificadas.
3.1 - A Antiguidade Oriental
O planeamento urbano, enquanto fenómeno mais ou menos organizado de desenho do espaço e de distribuição sistemática de funções, tem milénios de existência. As civilizações dos vales do Indo e do Ganges (2600 AC), dos vales do Tibre e do Eufrates, na Mesopotâmia, Sumérios (3000 AC), Caldeus (3000 AC), Assírios (2000 AC) e do vale do Nilo, Egípcios (3000 AC), estabeleceram traçados de povoados e de cidades com padrões de geometria, hierarquização de dimensão e de largura de ruas e praças em função dos seus usos como a habitação, o comércio, o armazenamento e os serviços públicos, e onde o poder, político e religioso confundidos, estava claramente identificado. E isto está bem presente nos únicos vestígios de arquitectura que chegaram até nós, ou seja, os edifícios religiosos, funerários e palácios. Tudo o mais são vestígios de povoados reduzidos a caboucos.
3.2 - A Antiguidade Clássica
Os gregos e os romanos foram mais longe ao desenharem geometricamente formas altamente elaboradas de vilas e cidades, em tramas regulares a partir de um centro, um xadrez de ruas cruzado por duas diagonais que, partindo do centro, tinham por função encurtar distâncias nos percursos. O centro, nos gregos designado por Ágora, e nos romanos por Forum, era o núcleo onde se condensava a vida cívica da cidade, onde o poder estava representado, no senado (poder político, administrativo e legislativo), nos teatros (poder cultural da classe dominante), nos templos (poder religioso).
Estas formas de intervir no espaço físico representavam um estádio de abstracção e de racionalização já incorporado na cultura destes povos, no urbanismo como na arquitectura, no pensamento como nas ciências, nas artes como no culto do corpo, no direito como na administração, percorrendo a existência destas sociedades de tal modo que os modelos que criaram sobreviveram muito para além dos seus limites temporais. A configuração racionalista presente no ordenamento urbano só era possível num tipo de sociedade altamente etilizada e assente sobre o privilégio e o domínio da classe mais apta e preparada. Nesta, os comportamentos de cidadania estavam em relação dialéctica com as necessidades nascidas de uma concepção de domínio exercido por «eleitos» que detinham, simultaneamente, o poder económico e o poder político, por chefes militares, senadores, administradores e legisladores, que constituíam, no seu conjunto, a classe dominante, oriunda de uma aristocracia de grandes proprietários de terras. Quanto à restante população, esta era formada por cidadãos comerciantes, por pequenos proprietários, por artesãos, por prestadores de serviços e, no fim da escala social, por escravos, «seres objectos» sem quaisquer direitos na sociedade.
Mas esta estrutura de classes, com o domínio de uma sobre as outras que constituíam a grande maioria da população, sobrevoa a História desde a Antiguidade até aos nossos dias. Quem desenhou as cidades desses tempos remotos, foram os donos do solo urbano, no essencial, a classe dominante e os seus representantes, o poder. E este «sabia fazer», pois era a elite culta da sociedade.
Não é, pois, de estranhar que os exemplos que chegaram até nós de traçados urbanos do passado remoto e, em particular, dos romanos, tenham aspectos comuns:
- Malhas reticuladas de ruas com uma praça central;
- A praça central era a praça do poder, ocupada pelos edifícios onde se exercia esse poder, tanto político, como cultural ou religioso;
- O comércio e os ofícios localizavam-se em ruas ou zonas a eles afectados;
- A habitação distribuía-se por zonas ou anéis, conforme se destinava a uma classe ou a outra, sendo a grande maioria constituída por edifícios que chegavam a ter cinco pisos;
- Os desportos (estádios e hipódromos) e os grandes espectáculos de massas (coliseus), tinham zonas próprias;
- Os banhos públicos (balneários), também tinham um lugar, e deles irradiava um vasto sistema de canalizações de água para abastecimento da população;
- As feiras, mercados e os armazéns, localizavam-se em pontos estratégicos;
- Os esgotos, em rede, serviam toda a cidade;
- Muralhas protegiam a cidade de ataques.
3.3 - A Idade Média
Na Idade Média, o crescimento urbano ou a fundação de novas cidades, obedeceu à mesma raiz e às mesmas leis económicas, políticas e militares, mas o poder assumiu, neste período, diferentes configurações.
Tal era o caso de cidades que eram sede de «feudos», ou seja, regiões onde dominava um «senhor», um nobre que detinha a posse de grandes territórios vizinhos e a quem o rei tinha outorgado o feudo. Esses territórios eram cultivados por uma população que vivia dependente do senhor e lhe fornecia os bens da sua riqueza através do trabalho que lhe prestava em regime de uma quase escravatura. Por sua vez, o senhor garantia-lhe protecção em caso de ataques. Era esta parte da população que habitava a cidade ou que, vivendo dispersa pelos campos, em caso de assaltos ou guerras, a ela acorria para se defender, procurando-a, também para nela vender os produtos que produzia, ou para nela comprar o que necessitava, fossem bens de consumo, fossem os artefactos essenciais ao seu trabalho.
Como era o caso de cidades de actividade dominantemente comercial e onde o poder estava nas mãos de uma classe de novo tipo, a primeira geração de burgueses (Séc. XI), os « burgensis». Esta classe, a burguesia, repartia a sua acção pelo comércio, pela indústria e pela banca, residindo a maior parte das vezes fora dos limites das cidades, dos «velho burgos», isto é, nos «novos burgus» ou «subúrbios» comerciais. São exemplo destas cidades, as situadas no norte da Europa, na região da Flandres (Bruges), ou as da «Liga Hanseática» (Lubeq), ou na Itália das repúblicas (Veneza).
Aqui, a presença dos rios ou a proximidade do mar, tiveram um papel estruturante na organização das cidades, pois era através dos primeiros, com a construção de uma vasta rede de canais, que estabelecia as suas trocas comerciais e os transportes de pessoas; como através do segundo operava uma intensa actividade mercantil marítima.
Outro é o caso do poder militar como motor da organização urbana. São exemplos deste tipo de cidades aquelas situadas em locais estratégicos, ora no interior, junto a zonas fronteiriças, ora no litoral, nas encruzilhadas de grandes rotas comerciais marítimas ou terrestres. Num ou noutro destes exemplos, era a sobrevivência do poder que se impunha defender, e a cidade para tal se configurava.
Em «cidades fortalezas» do interior situadas em pontos altos fortificados, onde as ruas, dispostas de forma circular concêntrica segundo o relevo, as chamadas «curvas de nível», se ligavam aos centros por extensas radiais que subiam as encostas ao seu encontro. Esses centros situavam-se dentro das cintas de muralha que abrigavam o primitivo núcleo habitacional em torno do paço senhorial (poder militar), ou do convento ou da igreja (poder religioso). Com o crescimento urbano, essas muralhas foram demolidas ou mantiveram-se, mas em qualquer dos casos, a cidade externa tinha de ser protegida. Foram, assim, construídas novas cintas fortificadas, com configurações já mais modernizadas em função dos progressos da técnica militar. Este modelo de cidade medieval ficou conhecida, em linguagem urbanística, por cidades de «esquema rádio-concêntrico» e ainda hoje é possível conhece-lo em cidades antigas que preservaram a sua estrutura medieval.
Por fim, algumas cidades houve na Idade Média formadas a partir de grandes Abadias ou Igrejas (poder religioso) que, ao longo de anos de chegadas de pessoas que se alojavam à sua volta, foram ficando no centro geométrico do aglomerado entretanto formado. Estas cidades, localizadas em rotas de peregrinos, não só fixavam uma população que trabalhava nas vastas propriedades das Abadias, como atraiam, sazonalmente ou não, grandes contingentes de migrantes que, em princípio, havia que alojar e que, mais tarde, ali passavam a residir.
Mas, em qualquer destes modelos de cidades, um interesse comum fixava a sua população – as actividades de troca e a produção industrial (que era também e em parte, objecto de comércio).
Esta raiz económica, associada ao poder que a controlava, constituiu-se pois, como o principal motor do desenvolvimento urbano. Tal não foi um fenómeno só da Idade Média. Ele é verdadeiro desde sempre, como já antes tínhamos acentuado, tal como o é nos períodos posteriores da História até aos nossos dias. E nunca deixou de ser o poder, económico, politico, religioso ou militar, o actor privilegiado no centro da actividade urbana, o seu tutor no terreno, aquele que é dono do solo e que se configura como a representação física da classe dominante que o exerce, que sempre o exerceu, por diferentes agentes e diferentes formas de autoridade ao longo do tempo.
É ele ou quem o representa que dita as leis urbanas, como dita as leis da sociedade no seu todo. É ele que detém o solo, como detém os instrumentos de sujeição da população que o habita ou nele trabalha. Nunca a população habitante ou trabalhadora, de trabalhadores manuais ou intelectuais, de artesãos ou pequenos proprietários industriais ou agrícolas, teve voz na elaboração dessas leis.
Quando esta população de agentes contidos edifica à margem do poder, fá-lo de forma anárquica, desregrada e sem planos ou com planos rudimentares, identificando, assim, a sua falta de tomada de consciência do processo de apropriação do Saber, seja ele empírico, experimental ou científico.
É o caso da génese espontânea de aglomerados populacionais relacionados com uma actividade de ocasião ou de oportunidade – cidades mineiras ou de pesquisa de matérias-primas ou outras, que atraíram, num curto espaço de tempo, grandes contingentes de trabalhadores, todos irmanados por um móbil comum e todos pertencentes à mesma classe de desprovidos, de solo e de meios de o adquirir. Ligado a este movimento espontâneo, surge também outro tipo de população constituída por aqueles agentes de actividades periféricas essenciais, do comércio, da produção ou da distribuição de bens de consumo diário que, por razões de negócio, se procuram sempre implantar estrategicamente nos centros urbanos.
Carlos Roxo