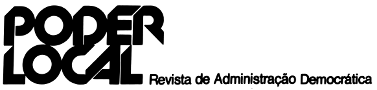Nota introdutória
Por convite da Assembleia Municipal do Funchal, participei num debate específico acerca da reabilitação urbana das áreas de génese ilegal das Zonas Altas e Super Altas da cidade. Pelo interesse de que o teor da minha intervenção se possa revestir, não tanto pelas questões específicas do Funchal mas pelo que de genérico possa conter, aqui a apresento.
Intervenção
Não pretendo ter, desta problemática, um conhecimento comparável àquele que os eleitos nas autarquias do Funchal certamente terão. Trabalhei como técnico e assumi responsabilidades como político em processos de reabilitação urbanística e construtiva, em áreas de génese ilegal, na Área Metropolitana de Lisboa (AML). Não desconheço que as realidades físicas da Madeira, da Grande Lisboa ou da Península de Setúbal são diversas. Igualmente diversas são a morfologia das cidades, especialmente das suas expansões, de Lisboa e do Funchal. Sei, ainda, que estes processos de reabilitação de zonas habitadas por populações carentes, e muitas vezes com um passado histórico de marginalização pelo poder, são de grande complexidade, sendo impossível apontar um modelo único ou soluções isentas de, no mínimo, menores virtudes.
Assim sendo, limito-me a apontar cinco aspetos que, apercebidos na AML, creio poderem ter um entendimento universal.
Primeiro. Garantir o «direito ao sítio».
Uma pergunta se coloca quando olhamos para territórios com morfologias indicadoras de ocupação ilegal, «toscamente» ordenados, carentes de infraestruturas e equipamentos, por vezes a desafiar situações de risco. Porquê esta ocupação?
Porque foi a única alternativa colocada a famílias de menores recursos para, com a sua diligência a suprir a indigência pública, resolverem o seu problema de habitação. Todos sabemos, embora o digamos de diversa maneira, que nas cidades de grande crescimento, o que constitui o objeto principal da especulação no setor imobiliário não é o imóvel construído mas sim a renda fundiária cobrada, mercê da implementação do capital fixo que se incorpora à terra. Ou seja, os que menos têm não conseguem resolver o seu problema habitacional nas zonas centrais ou de imediata periferia onde a incorporação de capital lhes torna o solo inacessível.
Assim, aqueles que ocupam zonas ultraperiféricas construíram cidade onde o estado esteve ausente e merecem, a não ser que situações de risco o não permitam, que lhes seja garantida a manutenção do «direito ao sítio», em vez de quaisquer políticas de realojamento. Direito ao sítio que exigirá do poder o esforço de adequar infraestruturas, acessibilidades, serviços e equipamentos.
A afirmação deste «direito ao sítio» torna-se até politicamente pedagógica quando as principais cidades do país estão a viver um processo de gentrificação, traduzido pela substituição social classista dos habitantes originais, de áreas bem definidas da cidade, por elementos de estatuto socioeconómico mais elevado. Ou seja, estamos a viver um momento de novos processos de expulsão para as periferias.
Segundo. Não pactuar com o risco.
Já foi dito antes mas importa deixá-lo bem claro. Algumas zonas de ocupação ilegal, até por ocuparem solos que não foram objeto de qualquer planeamento urbanístico, estão em áreas de risco.
Compete aos instrumentos de gestão de território de âmbito municipal, desde logo às cartas de risco dos Planos Diretores Municipais, determinarem quais as situações de risco. Depois compete aos políticos verificar quais destas são passíveis de correção através de obras de engenharia ambiental e, naturalmente, ajuizar da relação de custos-benefícios das mesmas. Convém lembrar que todas as decisões são políticas, por maior que tenha de ser o desenvolvimento técnico que as sustente. Sensato será ultrapassar a ideia de que é sempre possível controlar a natureza.
E, porque assim é, surgirão casos onde as situações de risco não são ultrapassáveis. Há que assumi-lo, no respeito pela vida, procurando soluções de realojamento que respeitem, o mais possível, o direito ao sítio e as tipologias construtivas. A constituição de «lotes alternativos», em áreas de expansão dos núcleos em recuperação, pode constituir solução quando a dimensão do problema é menor.
Em situações de maior dimensão e, apesar de a solução de realojamento estar prevista na lei (Lei 91/95, de 2 de setembro e suas alterações), a verdade é que, na AML, ainda continuam por resolver casos de bairros construídos em solos sujeitos a movimentos de massas em vertentes. Deixo a nota para deixar claro que a incoerência de usos, face às características biofísicas do território, e o desrespeito por estas características, conduz a situações de risco que marcam o território e as pessoas por muitas décadas.
Terceiro. Construir a cidade.
Sou dos que defendem o processo de concentração urbana. Considero que a concentração urbana de elevado número de habitantes em espaço reduzido apresenta, em todo o processo histórico, inúmeras vantagens. As cidades correspondem ao melhor modelo de vivência coletiva, construindo-se, ao longo dos tempos como espaços interclassistas de relacionamento étnico e cultural, de grande riqueza profissional e de saberes, de construção de sociabilidade no contacto com a diferença. As cidades são, neste entendimento, espaços de partilha e de entreajuda.
Sendo produtos históricos, as cidades não são homogéneas. Elas são um vasto e complexo conjunto de espaços urbanizados onde se operam dinâmicas sociais, também elas complexas, numa constante «negociação» entre os homens e entre estes e o território. É neste quadro que se devem colocar os processos de reabilitação dos tecidos urbanos degradados ou socialmente segregados.
E o que significa dizer isto? Significa que as diversas áreas da cidade, na sua heterogeneidade, devem dispor do mesmo serviço público que o estado está constitucionalmente obrigado a prestar aos cidadãos. Atendendo, naturalmente, ao respeito pela escala e a situações de centralidade, há que garantir a infraestruturação, o ambiente, as acessibilidades e os equipamentos, sem os quais não existe cidade e, o que é mais grave, não existe cidadania.
Quarto. A estrutura municipal.
A quem tem responsabilidades no governo local na cidade do Funchal é que cabe decidir como deve estruturar os serviços do seu município. Sem pretender, portanto, entrar nessa matéria e reconhecendo que, na AML, o modelo por mim preferido não foi ou é universalmente aplicado, direi apenas que vejo vantagens claras na criação de gabinetes locais ou outras estruturas municipais com a missão específica de tratar da problemática das zonas a reabilitar.
Da minha experiência pessoal, prefiro estruturas com competências ao nível de planeamento, de projeto, de obra e de acompanhamento social. Em fases diversas dos processos, desde o lançamento e arranque das operações até à «velocidade de cruzeiro» da sua concretização, viveram-se também fases de maior ou menor dependência de outros serviços da estrutura municipal.
Na área do planeamento, os níveis de intervenção diferiam essencialmente nas situações de loteamento ou de construções em artigos únicos, embora passando na maioria dos casos pela elaboração de Planos de Urbanização ou de Planos de Pormenor. Na AML, a maior diferenciação resultava da opção de a iniciativa e gestão do processo serem municipais ou dos proprietários. Situações existiram, e existem, em que os loteamentos ilegais têm claros intuitos especulativos. Aí a iniciativa deverá ser sempre dos proprietários a não ser que problemas de escala aconselhem o contrário.
Do que conheço das Zonas Altas do Funchal, construções em artigos únicos, na maior parte dos casos de reduzidas dimensões e resultantes de clara emergência face à carência habitacional dos seus habitantes, permito-me pensar que a iniciativa deverá ser municipal.
Na área dos projetos de edificabilidade, é importante o apoio que possa ser dado na elaboração dos mesmos. E, embora saindo das competências de uma assembleia municipal mas aproveitando a proximidade dos poderes legislativos regionais, permito-me lembrar o artigo 46 da já referida Lei 91/95 que diz «A assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal, pode autorizar excecionalmente a manutenção de construções que não preencham os requisitos necessários à legalização de construções, mediante a aprovação de regulamento municipal». Em situações de reabilitação e quando não se ultrapassem imposições de salubridade e segurança construtiva, tais regulamentos constituem preciosa ajuda.
Ainda a propósito desta lei – a Lei das AUGI – e independentemente das adaptações de que carecerá para poder ser aplicável à Região Autónoma da Madeira, devo salientar as possibilidades que abre para a resolução de questões jurídicas ligadas à posse da propriedade e sobretudo à criação de maiorias de proprietários, capazes de determinar a elaboração de planos e especialmente as fórmulas perequitativas dos mesmos.
Quanto às restantes competências, penso ser fácil perceber o porquê da sua indicação. Refiro apenas, e porque essa área de saberes por vezes é subestimada, que muito do sucesso das intervenções em que estive envolvido foi devido ao trabalho dos técnicos da área social. Da minha experiência saliento que, muito embora a abertura à participação das populações deva ser exigida a todos os intervenientes políticos e técnicos, aqueles que se reivindicam da área social têm aqui importante papel.
A participação a que me refiro não pode ser mera cosmética. Por importantes que sejam o betão e o asfalto, as dotações de infraestruturas e equipamentos ou outros quaisquer índices, nada é tão importante como as pessoas, as suas expectativas, os seus anseios. É essencial ouvi-las. Poderão não ter razão e não teremos de lha dar, mas temos obrigação de dialogar, de justificar o que se faz e por que se faz e, sobretudo, de justificar o que não se pode fazer.
Quinto. Evitar que se repitam as situações.
Devemos ser claros. A urbanização e a construção ilegais só são aceitáveis quando correspondem a um período e a um processo histórico em que o direito à habitação não é garantido. Seria prova de profunda desumanidade impedir aqueles que não encontram no mercado, e a quem o Estado não garante habitação, a resposta, pelos seus meios, à carência de habitação para si e para a sua família.
A urbanização e a construção ilegais só são aceitáveis porque foi o próprio Estado que as erigiu como parte da sua política de habitação.
Mas comemora-se este ano o quadragésimo aniversário da Constituição da República Portuguesa (CRP). Constituição que torna imperativo público o direito à habitação, afirmando que «todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar» (artigo 65 da CRP). E vai mais além, no mesmo artigo, ao incumbir o estado de um vasto conjunto de obrigações quer na área específica da habitação quer na área das políticas de solos.
Em minha opinião, o imperativo constitucional do direito à habitação será cumprido se existirem: a intervenção do estado na regulamentação do setor financeiro-imobiliário; uma política de solos que garanta o carácter público da decisão e a justa compensação urbanística para o interesse público; a dinamização, estabilidade e regulamentação do mercado de arrendamento; a resposta, através da iniciativa pública, às carências de habitação de renda apoiada; a mobilização para resposta às carências dos fogos devolutos e em posse da banca; a retoma de programas de construção de custo controlado e de renda apoiada; a definição de apoios ao arrendamento a partir dos valores de renda apoiada e não dos valores de mercado; a consideração do reforço de verbas, em orçamento de estado, para programas de apoio ao arrendamento; a definição de políticas de reabilitação urbana que, sem impedir regeneração de funções e populações, garantam o «direito ao sítio» e combatam a excessiva dominância do turismo.
Permitam-me terminar com esta espécie de cartilha para que as gerações futuras não tenham de repetir o nosso esforço – e esforço meritório e bom, mas que deve ser desnecessário numa sociedade justa e verdadeiramente desenvolvida – de recuperar vastas áreas do território ocupadas por urbanização e construção ilegais.
Lino Paulo