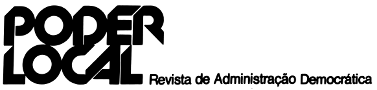Ao longo dos últimos anos, sucessivos governos têm vindo a agravar os ataques à escola pública, com objectivos claros e bem definidos, independentemente se é o PSD, o CDS ou o PS no governo, o caminho tem sido o da destruição, desvalorização da oferta pública de educação.
Pretende-se que a escola seja um mero instituto de formação profissional básico, empurrando a educação dos nossos jovens para a visão estreita do saber ler, escrever e contar, limitando-a no cumprimento do seu papel enquanto instrumento de emancipação individual e colectiva. Desta forma, uma parte significativa dos alunos que terminam o ensino secundário não chega ao ensino superior.
Só nesta legislatura, a educação sofreu um corte superior a 2 mil milhões de euros o que faz de Portugal um dos países europeus com menor investimento na Educação. Entre 2011 e 2014, houve uma redução de cerca de 34 mil professores, isto é, quase 20%; o número de alunos reduziu 6,1%. Portanto, mais de dois terços da redução de docentes foi provocada por medidas deliberadas e não pela redução de alunos: pelo encerramento de milhares de escolas, a criação de mega-agrupamentos, a manipulação de horários de trabalho, o aumento de alunos por turma, turmas com Necessidades Educativas Especiais (NEE) que deixaram de ser reduzidas, cortes na Educação Especial e artística, a implementação da Prova de Avaliação de Conhecimentos e Capacidades (PACC) para impedir o acesso à profissão, a aplicação da requalificação/mobilidade especial, o sub-financiamento e restrições ao ensino superior, entre outras.
Nuno Crato, Poiares Maduro e os autarcas experimentalistas trataram a educação como se fosse uma grande doença e os professores como pacientes sujeitos aos mais duros tratamentos.
Mas o que é exactamente o Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências, comummente designado por municipalização da educação? Trata-se de um processo de destruição paulatino da escola pública, tal como a conhecemos, justificando essa destruição como uma melhoria dado que os municípios estão mais próximos dos cidadãos. São desculpas esfarrapadas que visam apenas confundir, ou seja, destruir um ensino público e universal, por algo dependente de disponibilidades financeiras locais. Certamente que um aluno da área metropolitana de Lisboa ou Porto, por este modelo, terá melhores condições para estudar do que um aluno das Beiras ou Alentejo.
Esquematizemos as principais medidas, entre outras, para destruir o serviço público de educação:
-
Avançou-se com a possibilidade das câmaras cortarem professores, até ao limite máximo de 5% do número considerado necessário, a troco de 12.500 euros por docente abatido das listas;
-
O pessoal não docente passa a ser gerido pelas autarquias (cláusula 19.ª), abrindo-se a porta à utilização do mesmo em qualquer serviço camarário.
-
A cláusula 21.ª torna ainda mais fácil a contratação de privados para o funcionamento das Actividades Extra Curriculares (AEC).
-
A cláusula 25.ª congela todos os gastos por quatro anos.
-
A cláusula 39.ª favorece a desvirtuação do trabalho pedagógico sério em benefício dos resultados nos exames.
-
Com a cláusula 40.ª ampliaram-se as áreas de poupança financeira a todos os recursos educativos e regulamentou-se a partilha de 50% das “sobras”. Chamam-lhe “incentivos à eficiência”.
-
A definição dos critérios para a organização e gestão da rede escolar fica a cargo da autarquia, via verde para a privatização que se pretende. Assim, as autarquias ficam com poder de decisão sobre 25% dos curricula. Como exemplo consequente, a Câmara Municipal de Óbidos avançou com a disciplina de Filosofia para os alunos do 1.º ciclo do básico, yoga para os do jardim-de-infância e golfe e eco design para os do secundário.
Mas quem é que deseja esta reforma? Ou melhor, a quem interessa esta reforma? As escolas? Não. As famílias? Talvez algumas que estejam a pensar em protagonismo autárquico no desejo de ocupar um cargo de vereador ou mesmo presidente de Câmara. Os órgãos de gestão das escolas, os directores? Julgo que aqui se aplica o princípio das famílias, que aliás já teve exemplos nas últimas eleições autárquicas. Os autarcas? Talvez alguns numa lógica de caciquismo e outros com o olho no tão afamado envelope financeiro. Os professores? Não creio, e já demonstraram que são contra.
A municipalização da educação, como fica provado, e atendendo à tendência característica neoliberal dominante nas políticas governativas, demonstra claramente que o que se pretende é canalizar fundos públicos para financiar negócios privados: criação de escolas concessionadas, instituição do cheque-ensino e reforço dos contractos de associação. E é, mais uma vez, nos meios financeiros que reside o busílis da questão e não em questões pedagógicas ou de melhoria do sistema de ensino.
A nível europeu, a investida municipalista conhece dois casos bem concretos ocorridos na Suécia e na Inglaterra. Os nórdicos acabaram por se confrontar com um gigantesco fracasso, obrigando o governo sueco a inverter toda a lógica subjacente à localização da gestão educativa. Os ingleses, por seu turno, nem deram pelos benefícios do projecto e por isso já se encontram a reverter a situação.
Na Inglaterra, o processo de descentralização da educação está intimamente ligado com os ajustamentos políticos que ocorreu nos quatro países da união no final dos anos 90, ou seja, a distribuição de poderes e autonomia. Antes de 1994, o Departamento para a Educação e o Emprego e os seus departamentos territoriais eram responsáveis pelos assuntos educativos em Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Em 1999, o Parlamento Escocês, a Assembleia Nacional do País de Gales e a Assembleia da Irlanda do Norte assumiram responsabilidade legislativa (com excepção do País de Gales) e executiva na educação.
A municipalização do ensino sempre aconteceu, uma vez que as escolas sempre foram controladas pelos governos locais, o que não deixa de se relacionar com o facto de se estar a falar de quatro países, e não propriamente de quatro regiões. As grandes mudanças ocorreram durante a governação de Tony Blair, em que se procurou dar autonomia total às escolas na Inglaterra. Mas esta administração local das escolas varia no Reino Unido. Na Inglaterra, Escócia e País de Gales, as escolas são administradas por autoridades locais. Na Irlanda do Norte, as escolas são administradas por conselhos de educação.
Os resultados do PISA - Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (do inglês Programme for International Student Assessment) mostram uma maior influência das diferenças entre sistemas compreensivos e selectivos do que da maior ou menor delegação de responsabilidades para o nível local. Os referidos testes mostram que as escolas na Escócia têm menor segregação social do que na Inglaterra e que há mais desigualdade ao nível da performance nos locais onde há um sistema educativo mais selectivo.
Os níveis de segregação são mais elevados nos locais onde os alunos frequentam escolas com autonomia relativamente às admissões, o que acontece com um terço das escolas secundárias inglesas. Assim, o modelo da municipalização está a ser paulatinamente eliminado, atendendo aos fracos resultados pedagógico obtidos.
A reforma sueca iniciada há 20 anos baseou-se na mudança do modelo público de educação para um modelo que assentava nas escolas concessionadas.
O desastre foi tão significativo que uma auditoria ao novo modelo apurou o seguinte: a diferença de qualidade entre escolas tornou-se um problema nacional; a segregação social, que antes não existia, cresceu enormemente; os resultados dos alunos suecos, medidos pelo PISA, desceram exponencialmente; os gastos públicos não diminuíram; a degradação das instalações escolares aumentou, e como consequência também aumentaram as despesas públicas.
O Ministério Sueco da Educação foi forçado a terminar com esta má experiência e as escolas regressaram à tutela directa do Estado, reconhecendo-se que a reforma não gerou poupanças financeiras, não elevou o ensino, não gerou mais capacidades pedagógicas e segregou, em nome de uma liberdade de escolha que não funcionou, porque essa liberdade de escolha estava à partida condicionada pela disponibilidade financeira de cada município.
O processo de descentralização da educação em Espanha expressou as tensões entre a vontade de diferenciação e autonomia de determinados territórios, por um lado, e a vontade de uniformização e coesão interterritorial, por outro. Na década de 1980, a Catalunha, o País Basco, a Andaluzia, as Canárias, a Comunidade Valenciana, Galiza e Navarra assumem responsabilidades regionais sobre a educação primária e secundária. As restantes 10 regiões ficaram sob controlo do Ministério da Educação até 1998. No modelo espanhol, os fundos chegam às regiões em forma de bloco, não sendo destinados a programas específicos. Cada comunidade autónoma estabelece as suas prioridades orçamentais, o que significa que algumas regiões dão mais fundos à educação do que outras.
O balanço efectuado com este modelo em Espanha refere que o aumento dos gastos públicos com a educação coincidiu com a descentralização regional. Ao mesmo tempo, este processo implicou uma redução substancial dos gastos centrais com a educação de 50% em 1985 para 4,4% em 2004. Assim, qual foi a preocupação com a implementação do modelo: preocupação financeira ou pedagógica? Claramente financeira.
O caso brasileiro, tal como o modelo sueco ou inglês, já provou que é um falhanço completo e apresenta os mesmos problemas. O trabalho realizado por Paulo Rogério Dias e Maria das Graças Ribeiro intitulado A Municipalização do Ensino Público em Mariana concluiu que "A descentralização da educação pública pela sua municipalização agravou o fenómeno do clientelismo, intensificando a privatização da esfera pública, mediante negociações políticas e intimidação de adversários." Por isso a professora de Sociologia da Educação, Maria das Graças Ribeiro, não hesita em afirmar que um modelo assim "não é aconselhado a Portugal ou a qualquer outro país". "Nada mudou em termos de educação no Brasil, os professores municipais estão totalmente desmotivados para trabalhar ou reivindicar os seus direitos", justifica. Este trabalho conclui ainda, tal como a auditoria ao modelo de municipalização sueco, que o objectivo matriz deste modelo de privatização do ensino é criar a ideia de um descomprometimento do Estado com o financiamento e o instalar a crença de que não é papel do Estado ter encargos sociais.
Na Suécia e no Brasil, os directores das escolas, que antes eram eleitos por professores, pais e alunos, passaram a ser nomeados pelos municípios. Ou seja, o director de escola passou a ser um cargo de confiança política, quando a sua preocupação deveria ser pedagógica.
A contratação de docentes, nos dois países anteriormente referidos, deixa de ser feita por concurso público nacional. Passaram a ser os municípios que convocam os professores para contratações de um ano. A maior parte é contratada a título precário, os contratos podem ser prorrogados ou não, mas igualmente rescindidos a qualquer momento.
O resultado da municipalização do ensino no Brasil gerou um sentimento de insegurança muito grande instalado na classe docente, ficando sujeita a represálias das autoridades locais, como a transferência. O modelo concebe fenómenos de rotatividade dos docentes, o que faz com que os próprios pais prefiram inscrever os filhos em zonas sem municipalização do ensino. Os professores afectos ao modelo municipal queixavam-se de que não tinham autonomia para realizar um trabalho recreativo e sentiam-se vigiados. E no que diz respeito à manutenção dos estabelecimentos ou ao garantir de obras, por exemplo, tudo depende da vontade política do prefeito", revela Maria das Graças Ribeiro.
A municipalização do ensino público, pelos exemplos já referidos e atendendo à experiência portuguesa, não produz avanços significativos na educação. Pelo contrário, acarreta efeitos negativos, como a desmotivação da classe docente e o crescimento do clientelismo. Mesmo assim, tudo aponta para que este modelo alastre para outros graus, concretizando um só objectivo de fundo: o descomprometimento do Estado em termos de financiamentos e responsabilidades sociais.
O modelo gerado pelo 25 de Abril de 1974 procurou criar no País uma escola universal, democrática e de qualidade, a descentralização de algumas decisões nos professores, pais e alunos com o intuito de enriquecer o processo pedagógico. O que se pretende agora é aprofundar a situação de precariedade do sistema educativo: professores contratados, directores nomeados, escolas dependentes e pais descontentes.
Este modelo que se pretende impor em Portugal, com falhanços assinaláveis em vários países estrangeiros, obedece a uma lógica perfeitamente anti-descentralizadora, ou seja, não se verificou qualquer movimentação da parte da sociedade desejando a sua implementação, e por isso, ele continua a assumir-se como exercício de imposição de “cima para baixo”, como uma bigorna que caiu na cabeça dos intervenientes do sistema educativo português.
O que o Estado Central deseja é aligeirar o orçamento; é desresponsabilizar-se perante directores; é imputar custos às autarquias, e por isso os problemas de educação não devem ser vistos numa perspectiva financeira, mas de opções políticas institucionais. Justifica-se tudo com a descentralização, ou mesmo como uma espécie de regionalização da educação, o que se estranha quando observamos que muitas das pessoas que destruíram de forma activa ou por inércia os instrumentos de proximidade do MEC ou do actual alegado “regime de autonomia” das escolas, se encontrem entrem os defensores deste modelo. Estranhamos, ou talvez não.
A escola pública é factor de igualdade e importante indicador de qualidade da democracia. Promove um ensino de qualidade, porque se organiza para garantir uma igualdade de oportunidades, porque se esforça para ser inclusiva e tudo isto acontece de portas abertas a todos sem distinguir condição económica, social, cultural ou qualquer outra.
A escola pública está associada ao livre acesso à educação, crescente escolarização dos portugueses, combate ao analfabetismo, promoção de integração social e da igualdade de oportunidades, espaço de liberdade e de emancipação social, cultural, política, económica e religiosa, étnica e sexual. A escola pública é promotora da democracia e de outros valores que com ela estão associados, tais como solidariedade, colectivismo, cooperação
Os pressupostos fixados na proposta de delegação de competências em apreço, cruzados com as intenções que já foram anunciadas quanto ao cheque-ensino, poderão repetir no país o que se verificou na Suécia e no Brasil: grupos económicos a explorarem o negócio até que, anos volvidos, se reconheça a sua falência. Com a municipalização, os autarcas acabam por promover políticas a que se oporiam se a iniciativa partisse do Governo central, e o Governo central subtrai-se, maquiavelicamente, aos protestos que as suas políticas originariam.
Defender a escola pública de Abril não é, por isso, indissociável da reconstrução das suas características originais: democrática, universal, de qualidade, para todos e inclusiva. E ou a defendemos ou estará, muito em breve, condenada a transformar-se num corpo sem conteúdo.
Pedro Ventura