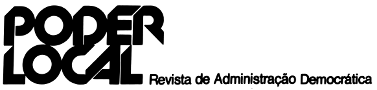Pode-se dizer que a prática ou actividade de planeamento territorial não transporta em si mesma nenhuma dimensão política, no sentido em que aprioristicamente não comporta nenhum conteúdo de opção para o espaço físico que regula. No entanto, pelos objectivos de regulação e ordenamento do território que lhe estão subjacentes, não será errado dizer que o planeamento serve, sobretudo, uma gestão do território que privilegia e protege o interesse público mais do que os interesses privados ou de mercado, interessados, sobretudo na indefinição de regras, na desregulação, no desordenamento, que lhes permite utilizar o território da forma mais conveniente para os lucros que procuram. Nesse sentido, podemos dizer que territórios mais democratizados exigem instrumentos de planeamento que garantam a democraticidade na forma como o território está organizado.
O Plano Director Municipal (PDM) é o principal instrumento que permite o planeamento de ocupação, uso e transformação do território municipal – destinando-o ao cumprimento de diferentes objectivos sociais e económicos – tendo o mérito também de poder tornar transparente e claro quais as realizações e investimentos municipais que podem ser levados a cabo nos diferentes segmentos do território.
Do nosso ponto de vista, os instrumentos de planeamento existentes têm potencialidades para servir o interesse público e, nesse sentido, o progresso social e as populações, se comportarem duas dimensões essenciais: em primeiro lugar, se projectarem um território onde todos tenham acesso a direitos como o trabalho, a habitação, educação, a saúde, a cultura, o lazer, o espaço público, entre outros; em segundo lugar, se emanarem da vontade e aspirações das populações, o que pressupõe o envolvimento destas na elaboração dos mesmos. Em grande parte, não foi isto que aconteceu com a prática dos PDM em Portugal que, nos anos 90, serviram em muito para permitir o alargamento das áreas urbanas para utilização pelo capital financeiro , de acordo com os interesses imobiliários especulativos.
Na cidade de Lisboa, hoje, o que temos é um PDM permissivo, que não salvaguarda os usos do território nem do património, nomeadamente porque dá espaço à catadupa de licenciamentos a que temos vindo a assistir, nomeadamente no sector do turismo.
Cabe aos poderes públicos exercerem um planeamento que mantenha um equilíbrio entre as diferentes funções dos territórios, de forma a garantir os direitos supracitados. Ora o que hoje acontece na cidade de Lisboa é que a função turística está a matar as funções habitacional, de comércio local e, mesmo, de lazer (para os residentes), com a proliferação massiva de hotéis e hostels, numa lógica em que o mercado decide e, nomeadamente, os grandes especuladores imobiliários que tratam de expulsar os moradores para fora da cidade e dar uma machadada no mercado de arrendamento (situação agravada com a liberalização das rendas).
Por detrás dos conceitos já tão em voga de gentrificação e turistificação, o que está a ser verdadeiramente posto em causa é o direito à cidade, sendo hoje Lisboa uma cidade menos democrática. Menos democrática porque é mais desigual uma vez que cada vez menos estratos sociais têm acesso a determinadas áreas da cidade (quer para habitação quer para lazer), tendo-se aprofundado o fosso social entre estratos e emergido a polarização social; menos democrática porque a maioria da população é relegada para zonas periféricas ou, mesmo, para concelhos limítrofes; menos democráticas porque existem cada vez mais «ilhas socais», segmentos de territórios destinados a classes e estratos sociais específicos, desaparecendo cada vez mais a realidade de uma cidade inter-classista, cenário tão típico dos aglomerados urbanos de países mais desigualitários.
O direito à cidade, hoje tão colocado em causa, exige, uma planificação orientada para as necessidades sociais, com clareza e rigor, mas também as forças políticas e sociais capazes de a colocar em prática.
Inês Zuber
(socióloga)